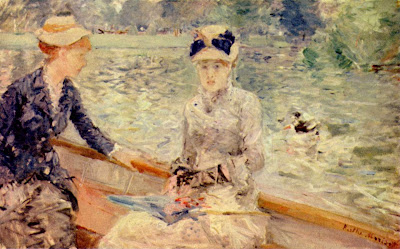Fátima Quintas
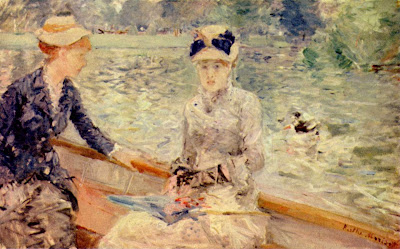
Verifico a despensa da minha casa. Faltam alguns itens indispensáveis. Resolvo ir às compras. Depois de encarar filas, escolha de produtos, marcas preferidas, pagamentos, guardo as sacolas na mala do carro e resolvo tomar um deforete. Sento-me no corredor do Shopping Plaza de Casa Forte e vejo as pessoas transitarem à minha frente. Gosto do exercício de observar, provavelmente um vício de pesquisadora. Os detalhes me seduzem, confesso a minha vocação para vigiar a vida. O rosto, as roupas, o andar, o jeito de ser, as conversas paralelas... Tudo isso me ajuda a compreender a humanidade. Somos o espelho do que vemos, os reflexos se assemelham, uns mais, outros menos. Eu me incluo entre a multidão anônima.
Uma mulher, de uns quarenta anos, gesticula e fala, há qualquer coisa de urgente no seu desabafo. Às vezes, gagueja, mas repete insistentemente “não quero mais, acabou”. A amiga, ouvinte, silencia. Discreta, não emite qualquer opinião, acata a escuta. E as frases se acumulam numa cadeia incessante. Ouço a sua história em frações de minutos: casada, dois filhos adolescentes, o marido pouco se preocupa com a família; boêmio, leva uma intensa vida noturna, acorda mal-humorado, sai para o trabalho e retorna alta madrugada. Ela se sente sozinha, cuida da casa, dos meninos, avalia-se excelente dona de casa, sabe dar as ordens, ajuda na limpeza e não poupa esforços para manter um lar harmonioso. Bonita: cabelos cacheados, pretos, cílios curvos, volumosos, pele acetinada, alva, bem cuidada, lábios grossos, repolhudos, corpo esguio; sua imagem lembra uma foto de propaganda de cremes femininos, hidratantes. E, no entanto, a beleza destila palavras duras, ressentidas, magoadas.
Desvio o olhar para descansar da sua dor. Adiante, um rapaz brinca com o filho; a esposa grávida, os dois se entendem com carinho. O filho pede uma camisa que vê na montra, logo adquirida na loja próxima. O pacote não demora a ser rasgado, a impaciência não permite aguardar por uma hora especial para vesti-la; então troca-a pela que usa, e, pronto, contenta-se com a roupa recém presenteada.
Ao lado direito, uma senhora de cabelos brancos conversa com a vizinha, permutam ideias, uma e outra aparentam a mesma idade. Falam uma linguagem amena, de netos, sobrinhos, maridos, a vida latejando no cotidiano... Discorrem sobre as regras da sociedade, as mudanças repentinas, um jogo interativo com atores mais ágeis e, por vezes, menos verdadeiros. Pelos comentários são mulheres instruídas, capazes de criticar com serenidade.
O corredor está cheio de passantes, bancos ocupados, homens e mulheres carregam embrulhos, a vida parece fervilhar em uma pequena passarela. Fisionomias sérias, risos largos, testas franzidas, lábios em movimento resumem um cenário comum, a fotografar uma tarde de sábado, um sábado a mais no calendário do tempo.
De repente, uma jovem, Maria, Cristina, Ana ou de um nome qualquer, fala ao celular. Desliga com uma certa veemência. Torna a ligar. Na bolsa a tiracolo, outro celular toca. Ela se apressa para atender. Agora são dois em suas mãos e a perícia em lidar com os aparelhos me chama a atenção. Não se arrelia em dominá-los na fúria da comunicação. Nada altera o hábil mecanismo. Manda torpedos, lê mensagens, disca, redisca... Alheia ao derredor, concentra-se no fetiche que carrega. Outra jovem, mais nova que ela, mostra-lhe sua última aquisição, um celular pequenino que exige um estilete para manuseio. Em poucos segundos, desvenda os segredos da Esfinge. Um terceiro jovem, de camisa de malha vermelha e calça jeans, agrega-se às duas, de posse de mais três celulares. Distraio-me com a brincadeira da tecnologia e me espanto com a sedução por aqueles comunicadores tão potentes. O mundo mudou, bem sei, sinto-me uma simples espectadora, a arregalar os olhos diante de tantos avanços. Sou à antiga, ainda me apetece o bate-papo pessoal, o olho no olho, o toque. Celular, com parcimônia, para recados telegráficos.
A mulher falante continua o longo desabafo, o menino de camisa nova corre por entre pernas alheias, as duas senhoras de cabelos brancos mantêm viva a conversação, os jovens disputam tecnologias recentes... Eu sigo o caminho de casa como alguém que assistiu a um filme com personagens díspares.
O filme da vida de todo dia.